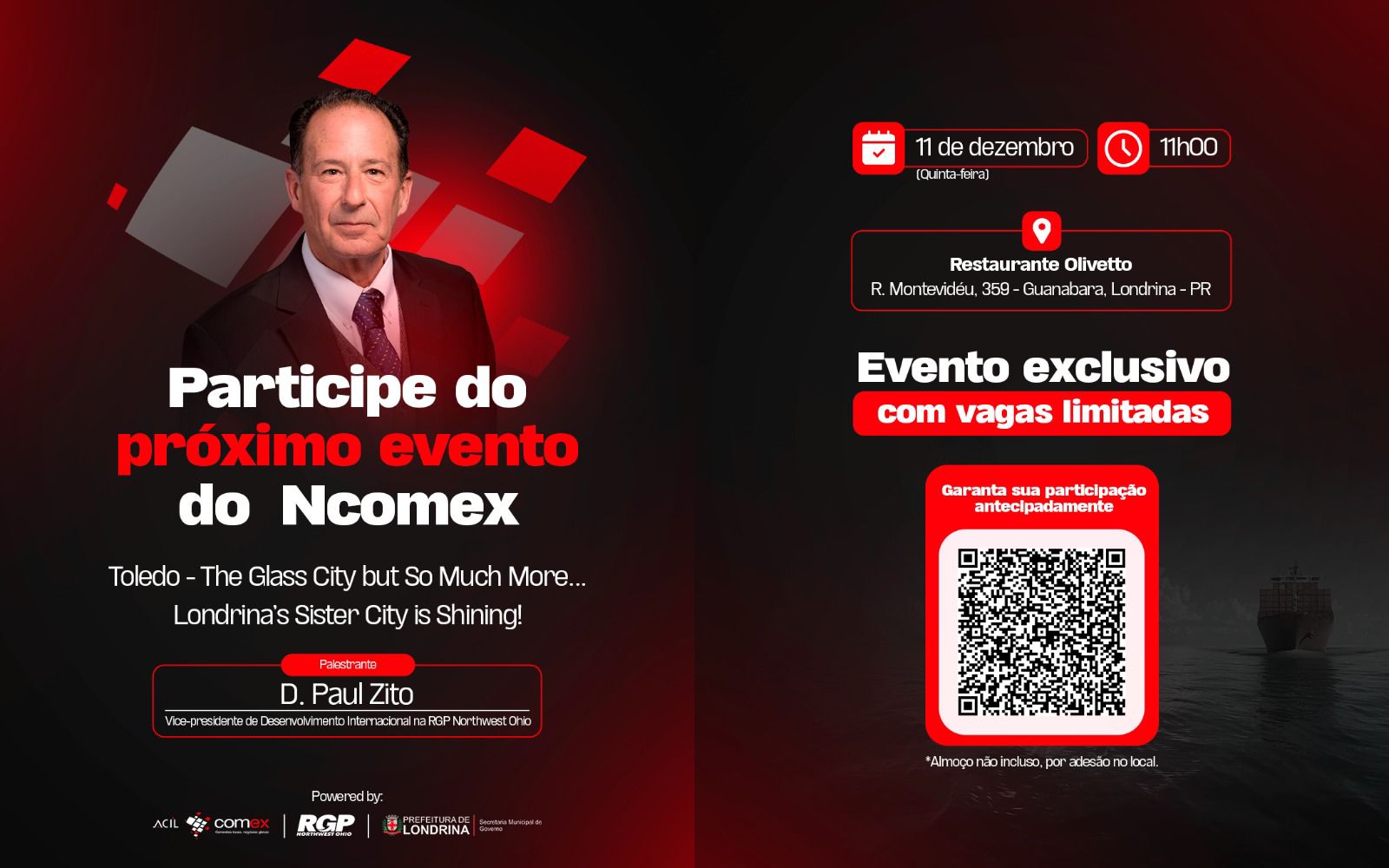Em primeiro lugar, gostaríamos que contasse um pouco aos nossos leitores sobre sua formação e como entrou em contato com a educação liberal.
Eu fui um aluno de educação liberal quando eu tinha entre 15 e 18 anos. Eu e meu amigo Henrique Elfes, quando estudávamos no Colégio Marista, em Curitiba, tivemos a sorte de ter um professor chamado Irmão Virgílio Balestro, que era um educador no sentido da educação liberal. Dos 15 aos 18 anos, ao invés de ter férias, nós ficávamos estudando com o irmão Balestro. Quando terminei o ensino médio, tinha passado por uma experiência similar, guardada as devidas proporções, daquela porque passam os alunos americanos nas grandes escolas preparatórias para a universidade. Nos EUA ainda sobraram 200 instituições de educação liberal, que não são High Schools, mas escolas preparatórias (leiam Peter Cookson Jr., Preparing for Power). A primeira coisa, portanto, a deixar claro, é que dentro dos moldes que o Irmão Balestro foi capaz de conceber, eu fui um aluno de educação liberal, antes dos 18 anos.
Além disso, no colégio, eu era editor de um jornal cultural chamado A Formiga. Eu tinha uns 15 ou 16 anos e me metia a fazer crítica de teatro, de cinema e coisas assim. Quando fui para a universidade, estudei, em primeiro lugar, filosofia, mas não terminei o curso por várias razões, sobretudo porque os horários eram infernais, e acabei cursando economia e letras. Contudo, por conta daquela minha formação na educação liberal, eu não consegui me desvincular de assuntos culturais.
Como essas duas formações ou interesses, o cultural e o econômico, relacionam-se em sua vida?
Pode-se dizer que minha vida divide-se em três partes: na primeira, eu era um economista trabalhando com abertura de capital de empresas e que lia Shakespeare; na segunda, eu era um consultor econômico que estudava muitas e muitas coisas para ser um bom consultor, mas estava mais interessado em desenvolvimento econômico; e na terceira parte da minha vida, na qual já estou há alguns anos, eu sou um sujeito que lida com assuntos culturais e que secundariamente trabalha com desenvolvimento regional, sobretudo com assuntos agrícolas.
Ao sair da universidade, acabei concentrando-me mais em assuntos econômicos. Participei de uma experiência econômica original, que se chamava Mercado Comunitário de Ações, uma tentativa de criar no Brasil um mercado de acesso, um sistema de negociação de ações de empresas na própria sociedade onde elas estão. Entrei numa equipe liderada por um sujeito muito brilhante, chamado Rubens Portugal, e me dediquei a isso por muitos anos. Em 1987 esse projeto acabou e me apareceu a possibilidade de ter uma carreira no mercado de ações, mas eu não tinha o menor interesse nisso. O projeto me agradava porque exigia estudo e pesquisa, mas a vida de bancário não me atraia nem um pouco. Então eu montei uma consultoria para a viabilização econômica de empresas, que era mais ou menos o que eu já fazia no antigo projeto. Aos poucos isso foi se desenvolvendo em assuntos mais conceituais, sobre o que é empresa, estratégia, competição – desenvolvi vários modelos de análise competitiva – até que minha consultoria evoluiu para uma consultoria de desenvolvimento regional e fui me distanciando de trabalhos diretamente com empresas. Nesse período, meus estudos sobre cultura também tinham se desenvolvido bastante, eu estava estudando coisas bem complexas e foi aí que escrevi meu livro A economia do Mais. Nesse momento, a consultoria passou a ser muito limitada e ocupar um segundo plano, assim como os estudos culturais na primeira e segunda parte da minha vida.
Quando eu vejo essa predominância da minha vida como economista sobre a vida cultural eu me pergunto se essa foi uma boa ideia. Hoje eu tenho a sensação de que foi bom, porque a vida voltada para assuntos culturais, independente de alguma experiência econômica concreta, tende para uma certa teorização excessiva. Eu sempre digo para meus alunos: são duas horas de filosofia e duas horas de Globo Rural. Há um limite para o estudo de teorias, que varia de pessoa para pessoa. Aristóteles dizia que eram 3 horas. Raymond Aron dizia que estudava todos os dias, aos domingo, nos feriados, no Natal, mas só pela manhã. Parece que o segredo do estudo é muito mais a constância do que propriamente a intensidade.
Você participou em Curitiba de um experimento pioneiro no Brasil, reunindo filhos de amigos para ler os clássicos. Como surgiu a ideia? Como era organizado o seminário? Qual o resultado?
Bom, aí você vê como as coisas aconteceram. Dentro dessa visão de desenvolvimento regional, eu mantinha no IPD, que é uma entidade fundada pelo Carlos Schmidt para desenvolver o estado do Paraná, um seminário chamado Curso de Empreendedorismo Cívico, que é o assunto do livro A Economia do Mais.
Esse curso começou a crescer e o diretor executivo do IPD resolveu fazer uma auditoria para ver se ele funcionava mesmo, já que a ideia era transformá-lo em uma especialização universitária. Então eu sugeri que convidassem o Olavo de Carvalho para avaliar o curso, já que ele me parecia o sujeito mais capacitado para fazê-lo. Ele veio e passou o dia todo reunido com a diretoria do IPD discutindo sobre o curso. Ele insistiu que era preciso focar mais diretamente no individuo. O curso era voltado para o desenvolvimento regional e para o empreendedorismo cívico, mas ele achava, com toda razão, que o grupo dos participantes era muito pobre intelectualmente. Combinamos, então, de fazer um curso conjunto, eu e o Olavo. Ele trataria de filosofia e eu de desenvolvimento econômico. Esse curso é dado até hoje pelo seu filho, o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto.
Nessa época, como o Olavo vinha muito para Curitiba, decidimos fazer mais algumas coisas juntos. Foi então que ele apresentou o projeto de educação liberal, que era basicamente pegar uns 20 livros e ler junto com alguns jovens. No final da leitura, o Olavo faria seminário sobre o livro. Primeiro nós tentamos conseguir a adesão de alguma escola. Fomos à escola dita mais audaciosa de Curitiba, mas eles não entenderam nada do que falamos. Pegamos então nossos filhos, mais os filhos de alguns amigos, e fizemos um grupo de 30 adolescentes.
O projeto funcionava da seguinte maneira: o pessoal comprava o livro e lia toda quarta-feira à noite sob a monitoria do Luiz Gonzaga e do Carlos Vargas, que era aluno do Olavo. Uma vez por mês o Olavo vinha e discutia o livro com os garotos. Foi uma experiência de muito sucesso, apesar da disparidade de aproveitamento do grupo.
Depois eu fiz um exercício similar com alguns adolescentes em Paranavaí, no qual lemos durante um ano o Crime e Castig